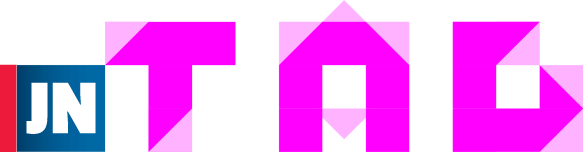Mais do que conhecer os nomes, importa saber que existem, que são incapacitantes e que acompanham o doente durante toda a vida. A 28 de fevereiro assinala-se o Dia Mundial das Doenças Raras.
“Tenho um problema no coração.” É desta forma que a jovem Jéssica Braga começa por explicar a doença que lhe foi diagnosticada logo à nascença. Chama-se Mucopolissacaridose I, MPS I em abreviado. Mas vai muito além de um problema no coração, é uma doença rara que afeta diversos órgãos.
A MPS I é caracterizada pela falta de uma enzima no corpo e é uma das oito mil doenças raras conhecidas atualmente. Em Portugal há cerca de 600 mil pessoas a viver sob o diagnóstico de doença rara, definida como uma condição que afeta, no máximo, cinco em cada dez mil pessoas. Quem o explica é o neurologista Miguel Oliveira Santos.
O conhecimento em torno das doenças raras “tem expandido, principalmente, na última década, com os avanços da genética médica e laboratorial”, refere o médico do Hospital Santa Maria do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Miguel Oliveira Santos caracteriza essas condições que afetam poucos pacientes como sistémicas, “por muitas vezes afetarem vários órgãos e sistemas”, o que exige uma abordagem multidisciplinar, onde se juntam diversas especialidades médicas.
Estas doenças, crónicas e progressivas, surgem, por norma, ainda na juventude. “Em crianças, adolescentes ou jovens, todas fases importantes da vida.” Para o neurologista não importa alertar ou divulgar para o nome específico das doenças raras, “mais do que isso, urge perceber que existem outras doenças para além das mais conhecidas e não é por não se falar que são menos importantes ou menos incapacitantes”.
O diagnóstico chegou para Jéssica Braga aos três meses de idade. E foi logo no nascimento que os problemas se fizeram sentir. Teresa Braga, mãe da jovem, conta que ganhou uma anemia durante a gravidez e a filha nasceu com “os glóbulos vermelhos fracos”, tendo sido também tratada para uma anemia. Mas o que deixava os médicos preocupados teimava em não passar. Entre exames, descobriram um problema cardíaco.
“Aos três meses já sabiam.” O que, para uma doença rara, sublinha a mãe, hoje com 35 anos, “até é rápido”. Iniciou-se a terapêutica de substituição enzimática (TSE), que fornece ao corpo a enzima que o mesmo não consegue produzir. Aos 16 meses, Jéssica Braga era submetida a um transplante de medula óssea, que os médicos garantiam ajudar a retardar a doença. Durante anos acumularam-se tratamentos semanais, internamentos e cirurgias às mãos, joelhos e coração, para resolver consequências da doença.
“Nos três primeiros anos levei uma ‘injeção’ para não pensar. Estávamos constantemente no hospital e tinha de andar para a frente, não conseguia pensar em medos ou riscos.” Foi aos dez anos que tudo começou a acalmar e os resultados de cirurgias e tratamentos fizeram-se sentir. Jéssica Braga tinha uma vida “igual a qualquer outro menino”: escola, aulas de hip-hop e ballet e amizades. Só lhe tinha de acrescentar as sessões de fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional, mas isso não incomoda a jovem de 13 anos. “Eu gosto de ir à terapia, só é chato às vezes ter de faltar à escola.”
A pandemia obrigou a abrandar a atividade e a reduzir as sessões de terapia, o que se repercutiu na saúde de Jéssica Braga, agora mais frágil, desabafa a mãe. “Mas vou melhorar e voltar às aulas de dança”, mostra-se, esperançosa, Jéssica.
Estigma do desconhecido
Foi quando o quadro clínico da filha melhorou que Teresa Braga começou a ter tempo para medos e inseguranças. Quis conhecer alguém mais velho do que a filha, com a mesma doença, para acalmar as inquietações, mas nunca conseguiu. “Mais velho só conheço com outros tipos da doença e não é comparável, mas eu comparo na mesma.” Queria falar e tirar dúvidas, “saber como corre depois”.
Miguel Oliveira Santos esclarece que esse é um quadro comum nas doenças raras, que são “um desafio acrescido” a nível social e familiar. Por serem desconhecidas, há a tendência de desvalorizar e não perceber os sintomas”. “Quando pensamos numa doença pensamos muitas vezes na fase final, que é a morte, mas há doenças que por si só não provocam a morte, mas incapacitam bastante.”
O estigma do desconhecido levantado pelo neurologista é sentido na escola, onde “alguns meninos são maus”, desabafa Jéssica Braga, natural da Póvoa de Varzim, que tenta “explicar-lhes que tem uma doença rara que a faz ser diferente”. Há também os que a ajudam. “Tenho uma amiga que me leva sempre a mochila, porque para mim é difícil carregar aquele peso.”
A mãe corrobora. “Na escola primária sempre foi muito bem recebida, mas quando passaram para o ciclo, com alguns alunos novos, sentimos preconceito.” Apesar disso, garante Teresa Braga, “ela é muito resolvida com ela própria. Não se sente inferior por ter uma doença”, e nunca sentiu que fosse necessário apoio psicológico.
A espera pelo diagnóstico
A identificação de uma doença rara é um processo complexo, onde muitas vezes os doentes passam anos ou décadas até ser atribuído um diagnóstico. “Quando existe histórico familiar de doença rara facilita o diagnóstico, que pode ser feito antes de haver sintomas. Mas, no caso da neurologia, os doentes que chegam com doenças raras já vêm sintomáticos e, alguns, com grandes incapacidades.”
O acompanhamento destes doentes é feito, por norma, em hospitais universitários, “porque o número de doentes é baixo e os centros de referência vão acumulando experiência com o número de doentes lá observados”, explica Miguel Oliveira Santos. Para facilitar a vida dos pacientes, que terão de conviver com a doença rara durante toda a vida, existem protocolos com hospitais mais periféricos e distritais para tratamentos. “O doente é acompanhado de forma periódica no hospital universitário e os tratamentos regulares acontecem mais perto de casa.”